No dia 30 de agosto de 2002, um filme brasileiro chegava a 99 salas de cinema. Foi preciso pouco tempo para descobrir que não se tratava apenas de mais um sofrido lançamento do cinema nacional, que tentava abrir espaço no fechado circuito comercial - era uma verdadeira bomba atômica que pousava nas salas. Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e codirigido por Kátia Lund, ajusta o foco sobre uma comunidade carioca, com parte dos moradores envolvida no tráfico de drogas e a outra parte exposta aos efeitos da criminalidade. Até aí, nada demais. Quantos já havíamos visto com essa temática, a ponto de justificar a denominação de um gênero à parte, o chamado “favela movie”?
Logo se veria que o filme não cabia no escaninho ou em generalizações fáceis. O elenco, para começar. Em Cidade de Deus, havia um ou outro ator ou atriz profissional, como Matheus Nachtergaele ou Graziella Moretto, por exemplo. Mas a maior parte da trupe era composta de gente da favela mesmo. Adultos, jovens e garotos anônimos foram preparados para interpretar os personagens retratados no romance-reportagem de Paulo Lins, ele próprio um ex-habitante do bairro da zona noroeste carioca que dá título à obra e contém em seu nome uma autoironia não pensada.
Logo que o filme começou a ser visto, sentiu-se alguma coisa diferente no ar. Por um lado, havia a comunicação fácil com a plateia, em especial com os jovens. Aqueles atores que ninguém sabia quem eram respiravam naturalidade tanto no modo de falar como no jeito de andar, relacionar-se com os outros, encarar sem desviar o olhar da vida dura que tinham pela frente. Eram os próprios personagens que interpretavam. Algumas frases viraram bordões: “Dadinho é o c…! Meu nome agora é Zé Pequeno!”, dizia um ameaçador dono de ponto de drogas interpretado por Leandro Firmino da Hora.
Outros garotos também se tornaram nomes conhecidos como Douglas Silva (Dadinho, ainda menino), Alexandre Rodrigues (Buscapé), Roberta Rodrigues (Berenice), Darlan Cunha, Alice Braga (Angélica), Phellipe Haagensen (Bené), Jonathan Haagensen e Seu Jorge (Mané Galinha), até então com experiência em música, não em cinema.
Ginga e charme
Havia muita ginga, música e charme entre eles. Mas também muita violência e, o que para alguns observadores parecia “obsceno”, crianças manejando armas maiores que seus braços. Esta era uma discussão entre críticos, porque obscena, de fato, era a vida real, não o cinema que a representava na tela.
O público não se fez de rogado. Começou a encher os cinemas e a comentar o filme. No final de sua carreira comercial, Cidade de Deus podia contabilizar nada menos que 3 milhões, 370 mil espectadores, números estupendos para uma produção brasileira com tal temática indigesta.
A crítica se dividiu. Parte detonou a obra sem piedade, acusando-a de uma visão fascista sobre as classes populares. Outra parte considerou-a uma verdadeira obra-prima. Alguns, mais colonizados, tentaram dizer que era a carta de maioridade do cinema brasileiro, que por fim havia aprendido a fazê-lo no estilo dominante, o do cinema made in Hollywood. Alguns poucos conseguiram enxergar a força radical que turbinava o filme, sem deixar de notar seus problemas e eventuais impasses éticos.
A influente crítica e professora universitária Ivana Bentes escreveu um texto explosivo chamado Sertões e Favelas no Cinema Brasileiro Contemporâneo: Estética e Cosmética da Fome. No texto, comenta vários títulos, entre eles Cidade de Deus. Comparava o manifesto engajado de Glauber Rocha (A Estética da Fome, 1965) com o que lhe parecia a sedução despolitizada das imagens de Cidade de Deus: “filme-sintoma da reiteração de um prognóstico social sinistro: o espetáculo consumível dos pobres se matando entre si”. E concluía: “Não estamos mais lutando contra o olhar exótico estrangeiro sobre a miséria e o Brasil que transformava tudo ‘num estranho surrealismo tropical’, como dizia Glauber em 1965. Somos capazes de produzir e fazer circular nossos próprios clichês em que negros saudáveis e reluzentes e com uma arma na mão não conseguem ter nenhuma outra boa ideia além do extermínio mútuo”.
No exterior
Enquanto brigávamos entre nós, no exterior a fama de Cidade de Deus apareceu e cresceu. Lançado fora de concurso no Festival de Cannes, começou a construir sua notoriedade na Europa. Não foi indicado a uma das vagas para melhor filme estrangeiro no Oscar, mas, no ano seguinte, fez algo mais difícil ao receber quatro indicações para a premiação da Academia de Hollywood - direção (Fernando Meirelles), roteiro adaptado (Bráulio Mantovani), montagem (Daniel Rezende) e fotografia (César Charlone).
Até hoje, 20 anos passados, é um dos filmes brasileiros recentes mais amados e mais citados por fontes internacionais. Em pesquisa da plataforma Preply, Cidade de Deus aparece como o segundo filme em língua não inglesa mais visto no mundo, atrás do francês Os Intocáveis e à frente do também francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, do coreano (e oscarizado) Parasita, do italiano A Vida É Bela e outros.
O embrião do sucesso polêmico de Cidade de Deus já estava talvez embutido no livro em que se inspira. Com sua crueza e redundância, o romance de Paulo Lins causou pasmo em seus leitores. Alguns deles superqualificados, como Roberto Schwarz, um dos maiores críticos literários do País e autor de livros incontornáveis sobre Machado de Assis (Ao Vencedor as Batatas e Um Mestre na Periferia do Capitalismo).
Ao resenhar o livro em 1997, Schwarz elogiou o “andamento que fascina o leitor até o final” a partir da entrada em cena dos bandidos locais e seu primeiro assalto. Aspectos como o tom cru, naturalístico e o ponto de vista interno à comunidade (criticado por comentaristas que o tacharam de descontextualizado) foram elogiados por Schwarz como pontos fortes da obra. Enfim, Paulo Lins surgia como alguém novo na literatura brasileira ao final dos anos 1990. O frescor do romance é inegável.
Fora da curva
Da mesma forma, no início dos anos 2000, Cidade de Deus, o filme, soava como algo bastante fora da curva, um óvni, novo, moderno, atual. Chegava ao mercado num momento particular. Já ia longe o desmanche do cinema brasileiro operado pelo governo Collor no início da década anterior. Collor caíra, o Brasil livrou-se da hiperinflação e, intuía-se, estava entrando num circulo virtuoso, como hoje, em retrospecto, se confirma - os famosos 20 anos de brisa, estabilidade econômica e democracia, de 1994 a 2013. Mesmo assim, problemas crônicos permaneciam intocados, com ar de imutáveis. Em especial, a enorme disparidade em nossa arquitetura social, a proliferação de comunidades carentes, a criminalidade e violência turbinadas pelo apelo fácil do tráfico de drogas.
Cidade de Deus, tanto o livro como o filme, entrava na conta de retratos fidedignos do desajuste social brasileiro, mas já não no diapasão engajado da literatura realista ou do gume crítico do Cinema Novo. Era outro jeito, outra ginga, outro ritmo. O humor e esse charme bruto jogado na tela, enquanto falavam de situações graves e trágicas, provocavam repulsa em alguns, dúvidas em outros e fascínio talvez na maioria. A força do elenco jovem (preparado por Fátima Toledo), a inventiva fotografia de César Charlone, a montagem ritmada de Daniel Rezende e uma trilha sonora lisérgica faziam o trabalho com o público. Ninguém pode negar: o filme passava uma pulsão rara e era um prazer vê-lo (e ouvi-lo) na tela. Continua a ser.
Pop
Como depois se notou, era uma obra antenada com uma época mais individualista, mais pop, menos sisuda e com menos horizontes que a anterior. Atitudes que podem ser vistas de maneira positiva ou negativa, a depender do ponto de vista do observador. A moçada, que não estava nem aí para reflexões estético-sociais, compareceu em massa aos cinemas, curtiu e saiu repetindo por aí frases descoladas, tiradas da boca dos traficantes. Essa convivência naturalizada com o crime era já coisa nossa e talvez deixasse entrever o país que surgiria uma geração depois, sem mais ginga, sem mais charme, sem mais humor - só a violência em estado bruto, despida de música e poesia.
Confira entrevista com o cineasta Fernando Meirelles
A estreia faz 20 anos: como hoje você avalia o filme?
O filme acabou gerando uma séries de outros filmes no universo das comunidades, alguns chamaram de “favela movie”. Não sei se esta onda surgiu para o bem ou para o mal, mas, mesmo sendo filmes focados principalmente na violência das comunidades, creio que há algo de positivo aí: mostrar é melhor do que ignorar a existência das comunidades. Ha vinte anos, dizíamos que havia muitas favelas no Rio como se fosse uma situação transitória; hoje está mais claro que as favelas não estão no Rio, elas são parte da cidade. Mas hoje eu não faria Cidade de Deus daquele jeito. Cidade de Deus hoje teria uma Marielle ou a semente dos movimentos culturais e do movimento negro, isso o filme não conseguiu antecipar. Aprendemos nestes 20 anos o que é o afrofuturismo e a ideia de trabalhar com a potência das comunidades e não só com as suas carências. Gostaria de ter vislumbrado isso lá atrás.
Qual o legado para você, para as pessoas que participaram, e para o cinema brasileiro contemporâneo?
Para mim, foi o passaporte para entrar no circuito de cinema internacional, coisa que nunca planejei. A onda passou, por sorte eu estava com uma prancha na mão, fui lá e surfei. Na época, era para ser apenas uma boa história sobre uma realidade que me intrigava, feito para o público brasileiro, mas alguma coisa escapou do controle e o filme achou outro lugar. Muitos atores ou gente que participou do processo são hoje profissionais respeitados que construíram uma carreira. Alguns atores morreram assassinados, uns poucos foram presos, e muitos continuam lutando a cada dia para achar um espaço. Mantenho contato com alguns. Na época, Cidade de Deus levou um bom público de volta aos cinemas para assistir filme nacional, mas em pouco tempo os números foram suplantados por muitos outros filmes, o que é ótimo. Foi apenas um degrau de uma escada.
Na época, a polêmica foi acirrada - estética x cosmética da fome. Qual o resíduo desse debate? Esgotou na época, trouxe boas ideias ou foi mais calor que luz? Passou ou deixou reflexões ainda vivas para se pensar o cinema hoje?
Talvez pela aceitação internacional essa etiqueta não tenha ficado colada nele por muito tempo. Na época, eu já havia achado que a ideia de “cosmética da fome” não se aplicava ao filme, era apenas um bom trocadilho, aliás bem publicitário, e funcionou por um tempo. Se houve um esforço nosso foi o de tentar fazê-lo o mais autêntico possível, quase documental às vezes, a começar pelo elenco e pelo livro que gerou o roteiro, escrito dentro da Cidade de Deus. Não havia nada no filme que qualquer marca gostaria de ver em sua comunicação. O fato é que não existe uma maneira certa de contar uma história - mesmo que fosse “publicitário”, estaria valendo. Cada filme acha seu jeito de narrar, o que interessa é tocar corações e mentes.
Como vê o cinema brasileiro atual e por que, apesar dos seus méritos, ele se mostra incapaz de produzir obras polêmicas como 'Cidade de Deus' e talvez 'Tropa de Elite'?
Acho que nosso cinema está em sua melhor forma, maduro, profícuo e diverso. Há cada vez mais filmes bem realizados que vão revelando quem somos. Mas estou sentindo falta de um filme que retrate o lado do Brasil que estamos descobrindo, o lado que gosta de armas, racista, que não se importa com destruição das nossas florestas e não entende o que é empatia. Um filme que responda aquelas perguntas que Terence Malick faz em Além da Linha Vermelha: de onde vem este grande mal? De que semente e de que raiz ela nasceu? Essa escuridão tem um nome? Essa crueldade, esse ódio, como eles nos encontraram? O que aconteceu conosco?









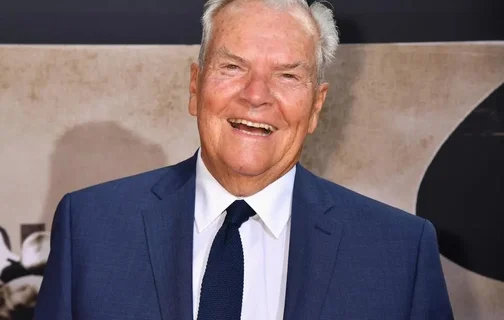
Ver todos os comentários | 0 |